Views: 0
Onésimo Teotónio de Almeida, 70 anos, é pensador, ensaísta e, não menos relevante, senhor de grande sentido de humor. Mesmo quando o assunto é sério, como o grande desastre americano chamado Donald Trump. Leia a entrevista à VISÃO
Em Portugal palramos de mais e agimos de menos. Culpar os outros é sempre uma saída fácil para a nossa inação”
18.02.2017 às 22h26
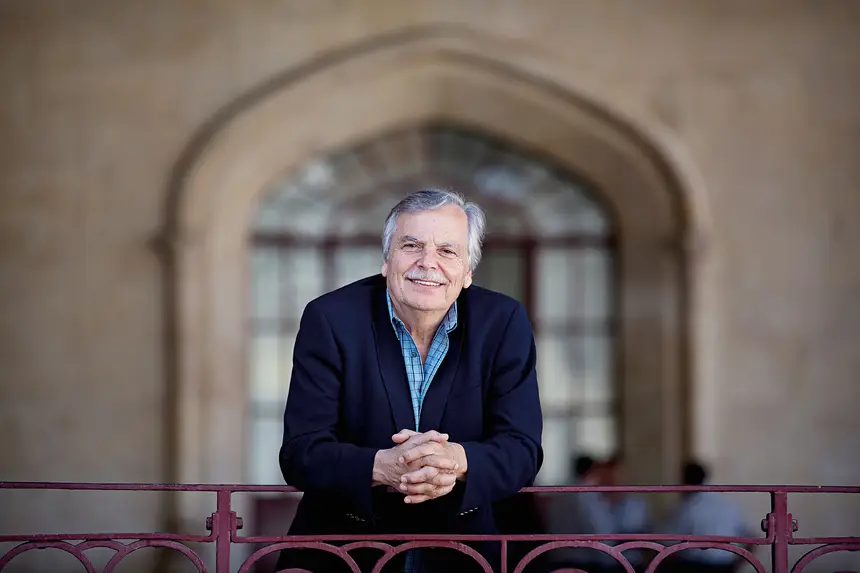
Nuno Ferreira Santos/Público
Onésimo Teotónio de Almeida, 70 anos, é pensador, ensaísta e, não menos relevante, senhor de grande sentido de humor. Mesmo quando o assunto é sério, como o grande desastre americano chamado Donald Trump. Leia a entrevista à VISÃO
Nasceu nos Açores, mas desde 1972 que se mudou para o lado de lá do Atlântico, o “rio”, como gosta de lhe chamar, que banha as suas duas margens – a americana e a europeia. Doutorado em Filosofia, Onésimo Teotónio de Almeida, 70 anos, acaba de lançar um livro, A Obsessão da Portugalidade, Quetzal.
Vive desde os 25 anos nos EUA. Ainda se sente português?
Quando se emigra aos 25 anos já se vem formado. Ou formatado, que é um termo mais facilmente entendível pela geração da informática. A personalidade de fundo está estruturada. Eu sou um português nos Estados Unidos, portador de dupla cidadania, e devo acrescentar que me sinto perfeitamente bem tanto aqui como em Portugal.
O que é que em si se aculturou?
Estou aculturado, sim, porque não é impunemente que se vive 45 anos num outro país, começando mesmo por estudar numa universidade. Aprendi a rever criticamente ideias que se instilam em nós como óbvias quando nos circunscrevemos a um único universo cultural. Quando nos confrontamos diariamente com outra cultura apercebemo-nos dos nossos pressupostos. Sobretudo aprendi a pensar muito com os pés no chão e a reconhecer a diferença entre o que as coisas são e o que gostaríamos que elas fossem.
O que é isto de ser português? Quais os traços ou comportamentos comuns que nos definem?
Evito responder-lhe porque todas as generalizações sobre povos pura e simplesmente são deficientes e longe de aplicáveis a toda a coletividade. É mais fácil compararmos os grupos uns com os outros, porque ressaltam melhor algumas diferenças. E mesmo assim, é necessário termos cuidado. Há maiores probabilidades de um suíço ser pontual e um português não, todavia não faltam portugueses imensamente pontuais (eu, por exemplo, mas confesso que não era nada antes de vir). Também não faltam retratos sobre os portugueses, tanto escritos a partir de dentro como de fora, e estes, por sua vez, compostos quer por nacionais quer por estrangeiros. É possível encontrar muitos elementos comuns nesses retratos, porém qualquer tentativa de desenhar o perfil do todo de uma nação é limitadora por nunca ser aplicável a toda a população. Nos meus escritos não procuro traçar qualquer retrato de Portugal, mas analisar criticamente algumas das facetas identificadas no comportamento coletivo português, sobretudo aquelas que têm tido mais impacto sociopolítico, como é o caso da saudade.
O passado glorioso pesa-nos sobre os ombros mais do que nos engrandece? Acusamos a culpa de nunca mais conseguirmos voltar a ser “grandes”?
Para lhe responder o que penso, nem um livro bastaria. Aliás, este meu livro é apenas a parte introdutória à questão da identidade nacional. Em Portugal temo-nos ocupado do nosso passado – o que é natural e legítimo. Ele pesa sobre nós como qualquer passado histórico pesa sobre qualquer povo, e o seu peso sente-se nas estruturas culturais profundas cimentadas ao longo de séculos e cristalizadas em instituições. Todavia, estas não são tão rígidas que não possam ser alteradas (e é isso que está errado na crença no suposto “caráter nacional”). Aliás, num dos capítulos do meu livro procuro mostrar como mudámos bastante o nosso estar coletivo (prefiro “estar” a “ser”) depois do 25 de Abril. Mas nem tudo se altera assim tão facilmente. Depois, note-se que é mais fácil mudar para o que dá prazer do que para o que exige trabalho e sacrifício. Muitas das mudanças entre nós aconteceram com a chegada da liberdade que permitiu que o princípio do prazer se difundisse. A intenção era que servisse para nos ajudar a recuperar do tal atraso. Conseguiu-se alguns avanços, mas estamos ainda longe da meta desejável. Não me refiro ao objetivo de voltar a ser grandes, porque hoje não há espaço para tais megalomanias (nem Pessoa sonhou com isso a sério). Há muitos países na corrida. Mas ao menos deveríamos integrar a família europeia sem nos preocuparmos com o labéu de PIGS, um epíteto americano dos anos 20 captando uma velha dicotomia Norte/Sul vigente na Europa do século XIX, que os países europeus do centro e norte recuperaram e nos voltaram a colar na testa.
Padecemos de uma espécie de bipolaridade? Oscilamos entre a depressão e lástima e a euforia?
Tenho-o notado ao longo de décadas. O 25 de Abril trouxe uma onda de euforia. Depois houve que pagar a conta da festa e entrámos em depressão coletiva. A entrada na Europa rejuvenesceu-nos, trazendo-nos de novo a um período eufórico a culminar na Expo’98 e a luta por Timor-Leste, e a prolongar-se até ao Euro 2004. Os sinais de outra depressão haviam, porém, começado já a surgir bem visíveis algum tempo antes, depois do desastre de Entre-os-Rios, de que hoje já quase ninguém se lembra. De fora, deu para notar a viragem da sensibilidade coletiva. Começava a fase seguinte, depressiva, do País.
Tendemos a atirar a culpa sempre para os outros? Para os vizinhos, para os políticos, para os alemães, para a Europa?
Sim. Claro que não somos os únicos a fazer isso. É mesmo humano. Todavia a minha experiência de vida nos EUA permitiu-me notar, de novo ao longo de décadas, que em Portugal é fácil as pessoas culparem os outros. Nos EUA vejo muito mais enraizada a atitude de comprometimento: há algo que depende também de mim e eu terei de ser o primeiro a empenhar-me em mudar. As pessoas que apenas criticam acabam não sendo ouvidas. Quem abre a boca sem dar primeiro o exemplo da ação positiva é considerado um fala-barato. Está vulgarizada a crença de que as obras falam mais alto que as palavras. Em Portugal palramos de mais e agimos de menos. Culpar os outros é sempre uma saída fácil para a nossa sedentária inação.
Há pensadores – alguns intelectuais e uma certa esquerda – que relacionam o patriotismo a algo moralmente perigoso. Concorda?
Porque as facas podem ser usadas para assassinar, não vamos eliminá-las, pois precisamos delas para cortar pão. Qualquer país precisa de manter coesos os laços comuns entre os seus cidadãos. Precisa, além disso, de construir uma imagem positiva de si próprio e de transmiti-la aos jovens. Todos os países procuram fazê-lo e é natural que o façam. Claro que uma coisa é termos uma imagem positiva de nós próprios e outra é a atitude ridícula de nos pensarmos geniais, os melhores, os maiores. O patriotismo é algo compreensível e, até certo, ponto desejável; mas, tal como tantas outras facetas da nossa vida coletiva e pessoal, tem de ser temperado com outros valores. Aliás, não há valores absolutos; todos eles se imbricam uns nos outros. Isso já vem da sabedoria grega. Hoje, os grande debates éticos continuam na busca de um equilíbrio entre a justiça e a liberdade. É assim com todas as virtudes (sim, disse ‘virtudes’, que em grego significa ‘forças positivas’) e assim deve ser com o patriotismo, sobretudo num mundo hoje cada vez mais interdependente.
“America First”. O tema do patriotismo leva-nos ao populismo e a Trump. Já está refeito do choque ou era dos que acreditava que esta vitória podia de facto acontecer?
Não, não acreditava, mas as dúvidas começaram a surgir nas vésperas. Num curto artigo escrito no dia anterior às eleições, citei uma sondagem, que reputava segura, segundo a qual as hipóteses de Hillary perder eram como as de um jogador falhar uma grande penalidade. Portanto, não certeza segura. Também já escrevi a chamar a atenção para o facto de ter sido uma vitória à tangente, nada a ver com o que Trump apregoa. Em 58 eleições, a dele está em 46º lugar em termos de número global de votos (combinando os populares com os do colégio eleitoral). Trump crê em “factos alternativos”, traduzido em linguagem tradicional por “mentiras”, conceito que para ele não parece ter qualquer validade.
E como se vive nos EUA estes primeiros tempos com um populista bully aos comandos?
Felizmente as instituições americanas são muito sólidas e a vida continua normalíssima (embora com manifestações frequentes e barulhentas por todo o lado). Há processos legais de as pessoas manifestarem o seu desacordo cívico, o que lhes permite intervirem a ponto de, em poucos dias, obrigarem Trump a suspender um decreto presidencial, como aconteceu no caso dos vistos para os cinco países muçulmanos. E a procissão ainda só vai no adro. Há mais de 40 anos ouvi contar de alguém ter avisado o então recém-eleito presidente Eisenhower que ele cedo se iria aperceber de que governar o país não era como comandar o exército. Uma ordem superior não é necessariamente transmitida cegamente pela cadeia abaixo até ao mais insignificante dos soldados. Trump está a confrontar-se com essa, para ele inesperada, realidade. Não se trata do velho hábito luso de as leis serem emitidas de cima e ninguém as cumprir. Nos EUA, concorde-se ou não com ela, é suprema enquanto vigente. Por isso, se o Presidente agir ilegal ou inconstitucionalmente, há toda uma máquina que impede as suas ordens de serem postas em prática. Minutos antes de começarmos esta entrevista, o carteiro deixou-me à porta o mais recente número da New York Review of Books. Em letras garrafais, lá vem um título: Trump viola a constituição. Nos EUA isso é grave e traz consequências sérias, se se confirmar. Um cartoon num jornal trazia um homem rodeado de jornais com títulos sobre as últimas trumpalhadas. O comentário dele: “Trump não nos dá oportunidade de lhe darmos uma oportunidade”.
Trump vingou pelo simplismo: dá respostas básicas a problemas complexos. Em tempos de desencanto, os povos preferem ser enganados do que se lhes diga que não há saídas fáceis?
O clássico humorista americano H. L. Mencken disse uma vez: “Para cada problema complexo há sempre uma resposta que é clara, simples e errada.”
Como é que a América vai recuperar deste retrocesso civilizacional? Quanto tempo demorarão os seus eleitores a perceber que ele é uma fraude?
Já se começa a ver sinais disso. Basta um pequeno número de senadores republicanos recearem colar-se demasiado a ele, sobretudo os que vão enfrentar a sua própria reeleição daqui a pouco mais de um ano e meio (os partidos não votam em bloco, cada congressista responde por si). Se os destemperos de Trump continuarem, eles terão de começar a abandoná-lo se quiserem sobreviver, e isso será a salvação da democracia. O importante é Trump não disparatar apocalipticamente antes disso.
Ao fim de oito dias da tomada de posse já se falava em crise constitucional. Podemos ver um golpe de Estado nos EUA? Ou uma guerra?
Adivinhar é muito difícil, sobretudo o futuro, disse alguém. Pelo que conheço dos EUA e da capacidade de intervenção cívica dos seus cidadãos, os sinais no ar nestas primeiras duas semanas indiciam o que penso e espero: há hoje uma imensa unidade de forças anti-Trump procurando agir dentro da legalidade de modo a obrigá-lo a conter-se dentro da mesma legalidade. Querem a maior prova de que pode acontecer? Os EUA foram o primeiro país a depor legalmente um presidente: Richard Nixon. E, em comparação com o que está agora a passar-se, por quase uma ninharia, coitado.
Concebe que pudesse ser eleito um populista tipo Trump em Portugal?
Não se recorda de um concurso na televisão portuguesa em que os portugueses elegeram Salazar como o melhor português de sempre? Olhe, em Portugal costumamos ser sempre bons seguidores de modas. Por isso…
E como é que os portugueses lidam com a mentira?
Bom esta pergunta é, para mim, um bocadinho… injusta. No final da conversa, não gostaria de terminar em nota negativa, muito menos generalizadora. Por isso responderei apenas: prevalece um velho hábito de esconder aquilo que de facto pensamos, e de isolar o discurso público, sempre a querer parecer muito bem (o “politicamente correto”), para depois fazermos na prática o que nos dá na real gana. Não somos nada, nada Trump, claro. Não mentimos. Mas escamoteamos a questão. Quase como estou a fazer agora com a sua pergunta.

