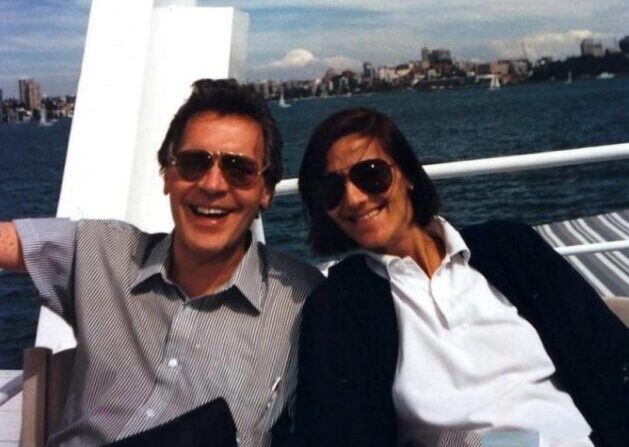Views: 0
DOS ROBÔS A PAMPILHOSA DA SERRA
==========================================
Olha o robô
António Araújo
Opinião/ DN
Em 1981, quando os Salada de Frutas lançaram o êxito Olha o Robot, não adivinhavam por certo que, seis décadas antes, em 1922, um jovem actor debutara na Broadway num papel robótico, trazendo para o Ocidente o mundo novo, mas nem sempre admirável, da inteligência artificial e seus derivados.
O jovem actor chamava-se Spencer Bonaventure Tracy e tinha a idade do século. Nascera em Milwaukee, no Wisconsin, na infância fora uma criança hiperactiva e problemática, com um aproveitamento escolar pior do que péssimo. Os pais meteram-no num colégio interno, de freiras dominicanas, mas nem isso lhe trouxe o tino ou marcou um destino: aos 21 anos, Spencer pensava ainda seguir Medicina, sem grande entusiasmo. Os papéis que ia fazendo no teatro da escola mereciam o aplauso dos colegas e, um dia, quase de súbito, decidiu matricular-se na Academia de Artes Dramáticas de Nova Iorque. Partilhou um apartamento com um colega, Pat O’Brien, onde ambos viviam nas raias da miséria, alimentando-se de arroz e de pretzels, tendo só um fato decente para usar os dois.
Mas, como a vida vira num segundo, ao fim de três meses o jovem Spencer Tracy já tinha uma oferta de trabalho na Broadway, para um papel menoríssimo numa peça com um nome estranho, assinada por um checo de nome arrevesado e bizarro, impronunciável. A representação de R.U.R. levada à cena na Broadway, em 1922, foi a primeira realizada no mundo de língua inglesa e, no ano seguinte, já sem Spencer Tracy no elenco, estava nos palcos do West End londrino. Na América, a recepção fora entusiástica, 184 apresentações, com os críticos a louvar a sua “energia demoníaca” e a originalidade do enredo. O autor, Karel Capek, era um intelectual de Praga nascido nas montanhas da Boémia, que abraçara a carreira de jornalista enquanto tentava a sorte na literatura. A experiência da Grande Guerra levara-o a escrever sobre os males do nacionalismo, das ditaduras e do consumismo desenfreado e um dia, enquanto o irmão pintava, contou-lhe a trama da peça que andava a congeminar, uma coisa sobre o futuro, um futuro imaginário em que a humanidade teria ao seu serviço criaturas escravas que trabalhavam nas fábricas e combatiam nos campos de batalha até ao dia em que, hélas!, se revoltavam contra os donos. Querendo terminar o quadro e fartinho das angústias criativas do irmão, Josef Capek deu um grito, ordenando ao mano que passasse ao papel a maldita peça. Karel respondeu que não tinha ainda nome para as criaturas rebeldes. Josef perdeu a paciência e gritou de novo: “Chama-lhes roboti!”
Caso não saibam, em checo robot significa servo, escravo (robota é trabalho forçado) e R.U.R. era um acrónimo de Rossumovi Universální Roboti, Robôs Universais Rossumovi, o nome da firma que fabricava as criaturas capazes de trabalhar incessantemente, produzindo bens a custo cinco vezes mais baixo dos anteriormente feitos pelos humanos. A acção desenrola-se em 2000 – como não? – e os roboti de Capek não eram robôs tais como hoje os conhecemos, eram humanoides (ou androides), criaturas vivas, orgânicas, de carne e osso, não máquinas. Simplesmente, enquanto alguns antecessores, como Frankenstein, eram feitos de pedaços de corpos humanos, a carne e o sangue dos roboti eram tão artificiais como o plástico.
Sei que é lugar-comum dizer-se isto, uma frase gasta para todas as antevisões do futuro, venham de Júlio Verne ou de Emilio Salgari, mas, sem margem para dúvidas, R.U.R. é uma obra premonitória. Em cena entra uma jovem idealista, Helen, militante duma ONG chamada Liga da Humanidade, que se condói do destino dos robôs e defende que os mesmos deveriam passar a ser pagos, para poderem comprar as coisas de que gostassem. Respondem-lhe os directores da fábrica que os robôs, como robôs que são, não gostam de nada e, por isso, não desejam comprar nada, pelo que não se justificava remunerá-los. Noutro momento da acção, Helen e Nana, sua enfermeira, discutem algo muito actual no Ocidente do nosso tempo, o declínio da natalidade humana, em contraste com a expansão acelerada dos robôs. Estes, claro, acabam por matar todos os seres humanos, excepto um, o engenheiro Alquist, que acaba por desenvolver uma nova e mais avançada espécie de androides, capazes de terem sentimentos e emoções. Dois deles apaixonam-se, é óbvio, e outro momento-chave de R.U.R., onde ecoava o drama da Grande Guerra, situa-se no 3.º acto, quando se discutem os prós e os contras de os robôs falarem apenas a sua língua nativa, sendo incapazes de comunicar com os robôs de outros países. Nos dias de hoje, com os nacionalismos em crescendo, a peça de Karel bem mereceria ser lida, mas, segundo sei, a única tradução portuguesa, feita em 2019, encontra-se esgotada nas livrarias. Há uns anos, em 2010, Leonel Moura apresentou em São Paulo, Brasil, uma recriação cénica de R.U.R. com a interessante particularidade de os robôs em palco serem máquinas de verdade, não actores de carne e osso. Justificava-se, a todos os títulos, que Moura trouxesse a peça até cá.
Saiu há tempos uma autobiografia curiosa (não deslumbrante, atenção) de Anthony Daniels (I Am C-3PO. The Inside Story, 2019). Provavelmente, poucos saberão quem é o actor Anthony Daniels, ainda que milhões o tenham visto na tela. Vimo-lo mas não o vimos porque, ao longo de décadas, surgiu-nos na pele de um androide, o C-3PO de Star Wars. Foi, aliás, o único actor que apareceu em todos os filmes da saga, que já são muitos, uns melhores do que outros. Para os menos familiarizados, C-3PO (Threepio) é o robô dourado e amaneirado que na Guerra das Estrelas surge ao lado de R2-D2, o androide baixinho e volumoso que com ele forma parelha inseparável, em jeito de Laurel & Hardy, responsável pelos momentos de humor que, no desenrolar da trama, são essenciais como intermezzo ligeiro que permite aos espectadores respirarem entre dois duelos intergalácticos, preparando-os para o dramatismo da cena seguinte. Em Star Wars há mais drama do que julgamos e num ensaio que lhe dedicou (The World according to Star Wars) o consagrado jurista norte-americano Cass Sustein propõe não menos do que 13 chaves de leitura para a saga de George Lucas: cristianismo, complexo de Édipo, feminismo, tecnologia, jihad, budismo, etc. Um mundo, portanto.
Apesar de falar seis milhões de línguas e dialectos, C-3PO é algo atoleimado e medricas, tendo George Lucas pensado que ele deveria ser encarnado por um “americano idiota” até assistir à extraordinária performance de Anthony Daniels durante as sessões de casting em Londres. Foi Daniels que, verdadeiramente, construiu a personagem tal como a conhecemos, um robô que fala e se comporta como um mordomo inglês afectado e cortês, com um ligeiríssimo toque gay, algo snobe, mas com um coração (?) infinitamente bom.
A história do actor e da sua personagem é bastante ilustrativa do que pode ser a interacção entre humanos e robôs: o actor meteu-se dentro do fato de C-3PO e ficou aprisionado nele, umas vezes literal outras metaforicamente, e o certo é que Daniels, ser humano de carne e osso, desvaneceu-se, apagou-se, nunca lhe vimos o rosto ou soubemos quem é. Para muitos, C-3PO pode ter sido interpretado por vários artistas ou até, porventura, por uma máquina. Mas não, nada disso, foi interpretado por um notável actor e mimo, que entregou a vida inteira a interpretar um robô que, naturalmente, não foi uma criação exclusivamente sua, cabendo a ideia original ao genial ilustrador Ralph McQuarrie, o qual se inspirou noutro robô lendário, a Maschinenmensch (“máquina-homem”) de Metropolis, de Fritz Lang (o C-3PO tem também uma aparência de Homem-Lata de O Feiticeiro de Oz, mas o visual art déco do robô da Guerra das Estrelas é, indubitavelmente, uma homenagem a Lang e à sua distopia).
O célebre escritor de ficção científica Isaac Asimov, vá-se lá saber porquê, detestou a peça de Karel Capek, apesar de esta ter vindo confirmar a necessidade das “três leis da robótica” que Asimov formulou: 1.ª: um robô não pode ferir ou causar danos, por acção ou inacção, a um ser humano; 2.ª: um robô deve obedecer sempre às ordens dos seres humanos, excepto nos casos em que elas conflituem com a lei anterior; 3.ª: um robô deve proteger sempre a sua existência, desde que isso não entre em conflito com as duas leis anteriores. Um caso típico de violação desta terceira lei é o HAL 9000, o robô de 2001: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que, para se proteger a si, liquida um a um os tripulantes humanos da nave espacial. No nosso tempo, já vimos robôs a infringirem frontalmente a primeira lei, matando por acidente operários que com eles trabalhavam. O mais grave talvez não seja isso, mas sim os danos infligidos mais sub-repticiamente pela inteligência artificial na destruição de milhares de postos de trabalho, na precarização laboral ou, em termos mais amplos, na degradação do valor intrínseco do trabalho humano. A questão não é sequer a de sabermos que os robôs e a automação podem ser perigosos, é termos consciência de que eles já são perigosos, e muito. Num dos seus últimos livros, o historiador Timothy Snyder oferece uma estatística aterradora: um terço das notícias do Twitter favoráveis ao Brexit foram disseminadas de fora da Inglaterra – e por robôs. A origem? Moscovo, claro.
Muito do que hoje vemos, ouvimos e lemos, como dizia a cantata de Sophia, é obra de não-humanos, mas dissimulado, passado e assimilado como se fosse feito por pessoas de carne e osso. Não, não é, é da autoria de máquinas malévolas comandadas por homens malévolos. E é um jogo de palavras retorquir que as máquinas em si mesmas não são malévolas, que malévolos são apenas os humanos que as comandam: uma máquina nas mãos de alguém maldoso torna-se, ela própria, maldosa e perigosa, ponto final (tal qual uma arma de fogo ou uma bomba nuclear, sem tirar nem pôr). Para quem ainda tenha dúvidas sobre o mundo em que vivemos, um livro acabado de sair, A Arma Perfeita, do jornalista do NY Times David Sanger (Casa das Letras, 2021), um retrato arrepiante das ciberguerras contemporâneas, nas quais a Rússia, como sempre, joga cartas sujíssimas, as quais, ao contrário do que sucedia com os mísseis e os canhões da Guerra Fria, são invisíveis e de fácil infiltração, insidiosas, sem rosto, utilizáveis em massa sem grandes investimentos bélicos ou baixas em combate.
Soube-se há dias que, para o Conselho Superior de Informações, o nosso órgão máximo em matéria de intelligence, o PS candidatou uma jurista de 28 anos cuja experiência nestas matérias é, digamos, menos do que zero: além do cargo de deputada, o CV de Joana Sá Pereira assinala tão-só a presidência da assembleia de freguesia da Pampilhosa da Serra. Perante as ameaças e os desafios de segurança do nosso tempo, e com o respeito devido a todas e a todos os pampilhosenses, pergunta-se: estará tudo louco?

Like
Comment
Share